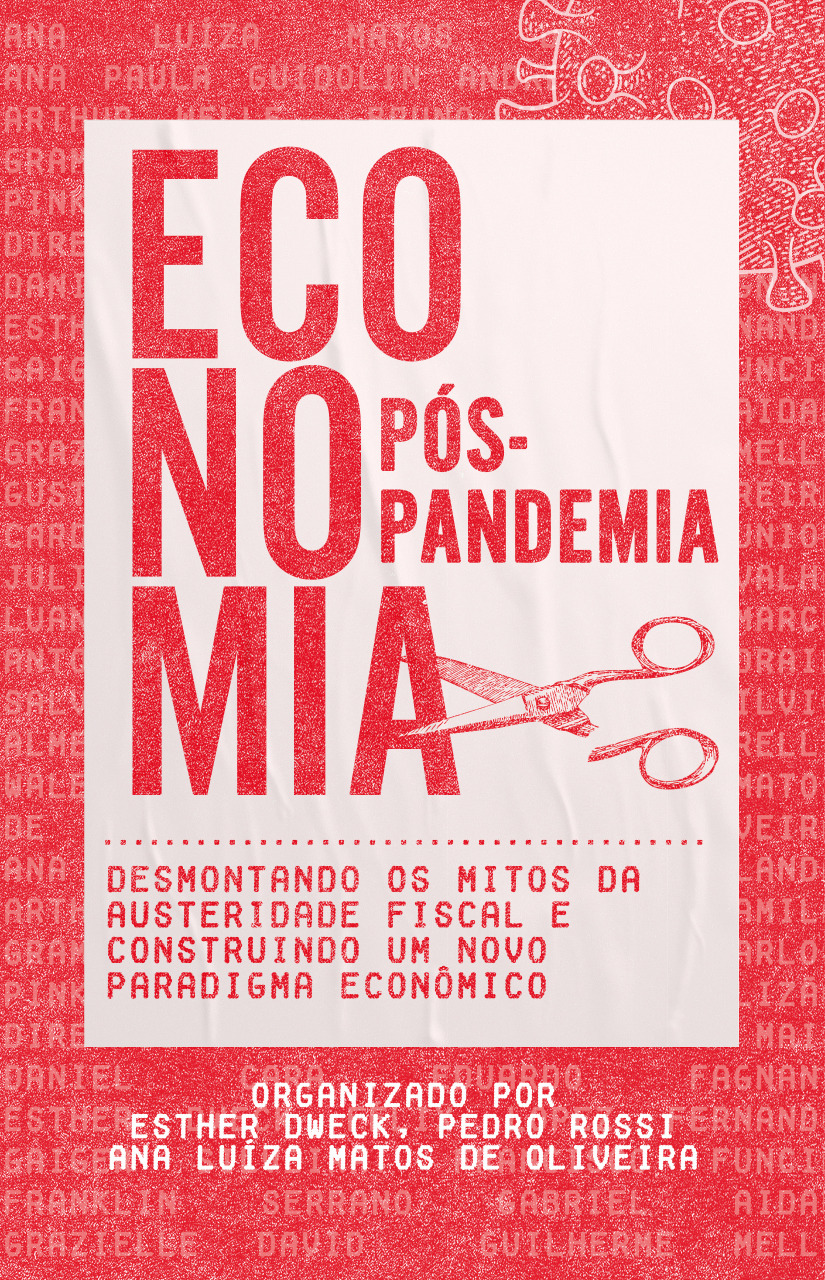Rita Casaro
 Esther Dweck: "Chegamos à dívida de 90% do PIB e não aconteceu nada."
Esther Dweck: "Chegamos à dívida de 90% do PIB e não aconteceu nada."
Foto: Acervo pessoalA afirmação que contradiz a alegação da equipe econômica do governo e os muitos porta-vozes do mercado financeiro na mídia é da economista Esther Dweck, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sem dívida em moeda estrangeira e com a possibilidade de emitir títulos a juros baixos, explica ela, o Brasil tem todas a condições de manter o padrão de gastos do ano passado para assegurar às pessoas a sobrevivência e o direito ao isolamento social enquanto persistir a pandemia do novo coronavírus, que no final de março causava mais 3 mil mortes diárias no Brasil.
Na sua avaliação, a segunda rodada do auxílio emergencial, prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 186, com limite de R$ 44 bilhões e definida pelo governo federal em quatro parcelas de R$ 150,00 para a maioria dos que receberão, não terá os impactos positivos do auxílio de R$ 600,00 pago em 2020. Esse, além da proteção às pessoas, foi importante para reduzir a queda do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado dos 11% previstos para 4% e garantiu o nível de arrecadação a estados e municípios, aponta a professora.
Defensora de um projeto em que as demandas sociais sejam o motor do desenvolvimento com forte papel do Estado, Dweck assevera ser imprescindível a revogação do teto de gastos imposto pela Emenda Constitucional 95. A proposta é apresentada, entre outras produções acadêmicas, no livro do qual é uma das organizadoras e autoras, “Economia pós-pandemia – Desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico”, lançado pela editora Autonomia Literária em 2020.
Nesta entrevista ao Jornal do Engenheiro (íntegra no vídeo ao final), ela defende ainda a recuperação da indústria nacional, que considera um elo central para que haja crescimento sustentado, com planejamento e estratégia coordenada entre demanda e capacidade produtiva, assegurando autonomia ao País, hoje dependente de importações em muitos setores, como na saúde. Essencial ainda é uma reforma tributária que deixe de penalizar os mais pobres.
A grande reivindicação do movimento sindical neste momento é a continuidade do auxílio emergencial. No entanto, a segunda rodada aprovada, sob a alegação de evitar a ampliação do déficit público, tem valor bastante inferior e por tempo limitado. Esse argumento é válido?
No ano passado, tivemos um raro momento de consenso entre os economistas, logo no início da pandemia; percebeu-se que era necessário fazer alguma coisa para dar o direito ao isolamento social, já que seria importante que toda a população estivesse protegida. Portanto, precisava-se de uma maior flexibilidade fiscal. Isso foi um consenso entre os economistas de todas as áreas. Falou-se: “A questão fiscal não é relevante neste momento e só podemos voltar a discuti-la quando se tiver alguma certeza de que a pandemia está resolvida.”
Mas essa visão, que para mim é a correta, foi se perdendo. Isso se deu em meados do ano passado, quando começou a ficar claro para a população que o argumento de que o Estado estava quebrado e o dinheiro havia acabado era falacioso. O dinheiro nunca acabou, e o Estado não está quebrado, há total condição de oferecer às pessoas uma garantia de sustentação da vida, principalmente de renda. As principais medidas econômicas [se deram com] a flexibilização das regras fiscais, que permitiram pagar o auxílio emergencial, capitalizar os bancos para os programas de crédito às pequenas empresas, pagar o seguro desemprego aos trabalhadores formais. Foi realmente um gasto vultoso que, inclusive, ajudou a economia brasileira a não ter uma queda tão grande. Tudo isso acabou no dia 31 de dezembro de 2020, quando infelizmente a gente estava tendo o início da segunda onda que, em janeiro, ficou claro que era muito mais grave que a primeira.
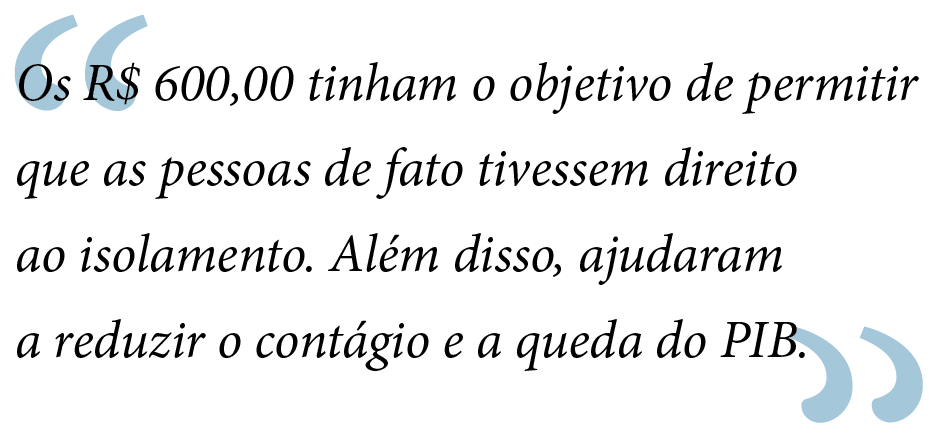 Ali, o governo percebeu que teria a oportunidade de criar uma certa chantagem. No final de 2019, o governo havia organizado junto com o Senado a apresentação das Propostas de Emendas à Constituição 186, 187 e 188, que eram mudanças muito fortes na estrutura fiscal brasileira, muito na linha de manter o teto de gastos e de rediscutir completamente a Constituição brasileira, principalmente na garantia de direitos sociais. E o governo começou a usar isso como barganha. Infelizmente os economistas mais liberais também viram uma oportunidade de pressionar por reformas.
Ali, o governo percebeu que teria a oportunidade de criar uma certa chantagem. No final de 2019, o governo havia organizado junto com o Senado a apresentação das Propostas de Emendas à Constituição 186, 187 e 188, que eram mudanças muito fortes na estrutura fiscal brasileira, muito na linha de manter o teto de gastos e de rediscutir completamente a Constituição brasileira, principalmente na garantia de direitos sociais. E o governo começou a usar isso como barganha. Infelizmente os economistas mais liberais também viram uma oportunidade de pressionar por reformas.
O governo ficou até março usando a gravidade da pandemia como poder de barganha para aprovar no Congresso uma emenda constitucional para, supostamente, viabilizar o auxílio, quando claramente não precisaria de nada disso. Bastava decretar a continuidade do estado de calamidade, todas as regras continuariam valendo, poderia fazer por meio de crédito extraordinário e poderia ter viabilizado o auxílio em 1º de janeiro. Nada justifica não fazer isso, não usar como poder de barganha para aprovar parte do que estava naquelas emendas constitucionais que não tinham nada a ver com a pandemia. O que foi mais grave: aprovou com valor fixo de R$ 44 bilhões, enquanto no ano passado foram R$ 300 bilhões. E sem nenhum gasto extra, a saúde voltou ao orçamento de 2019, são R$ 40 bilhões a menos que no ano passado; não há recurso previsto para o seguro desemprego. Por que se estipularam R$ 600,00 e não um outro valor? O bolsa-família é em torno de R$ 200,00. O [ministro da Economia, Paulo] Guedes queria exatamente isso. Mas o bolsa-família é um complemento de renda para que as pessoas possam ficar acima da linha da extrema pobreza. Os R$ 600,00 eram para ser a única fonte de renda de 68 milhões de brasileiros, o que permitiria que eles não trabalhassem e de fato tivessem direito ao isolamento, além de ajudar a reduzir o contágio e a queda do PIB. Nada disso vai acontecer neste ano. Para quem não tem nada, qualquer dinheiro é excelente, mas R$ 150,00 não permitirão que as pessoas fiquem em casa.
Por que o Brasil não está quebrado e pode gastar, apesar da dívida ter chegado a 90% do PIB?
Já há anos, o Brasil tem um sistema de dívida pública que é muito sólido. Ao contrário da Argentina, por exemplo, que se endividou em dólar, o Brasil se endivida na moeda local. No ano passado, mesmo no auge da pandemia, o Tesouro não teve nenhum problema para a emissão de títulos. Um país que tem essa capacidade pode e deve fazer expansão do gasto num momento como este, porque o setor privado está parado e deve ficar parado, esse é o objetivo de se pagar um auxílio. O governo é o único agente que tem a capacidade de emitir dívida, inclusive com a taxa de juros mais baixa de todos. No auge da pandemia, a taxa foi a 2%. O governo tem a capacidade de se endividar na sua própria moeda e determinar a taxa de juros que paga, algo que nenhum outro setor pode fazer.
A segunda coisa importante é que a receita do governo depende de quanto ele gasta. Isso ficou muito claro em 2020. No início do ano, estados e municípios tinham previsão de queda de receita muito forte, porque a economia tinha previsão de queda de 11%; ao entrar o valor do auxílio, caímos 4%, a economia continuou girando e a receita foi maior. A falta de coordenação fez com que, mesmo tendo o SUS [Sistema Único de Saúde], o Brasil não conseguisse enfrentar a pandemia tão bem, mas na área econômica teve uma saída boa, graças à aprovação do auxílio pelo Congresso. Outro ponto é [qual seria o limite para] a relação dívida/PIB. Chegamos a 90% e não aconteceu nada. A taxa de juros continuou baixa, subiu um pouco agora, mas foi porque a inflação foi um pouco maior do que se esperava, o que está ligado à macroeconomia do ano passado.
Segue, portanto, razoável e importante a batalha para que o auxílio seja ampliado.
Isso é essencial e existe forma de ampliar, depende do governo federal. Basta que declare um novo estado de calamidade. Mas só o Presidente da República pode fazer isso e parece que o governo não está caminhando para isso. É uma pressão para a sociedade civil fazer. E tem que ser por tempo indeterminado. Podemos colocar parâmetros segundo o número de morte, taxa de vacinação, mas não estabelecer uma data.
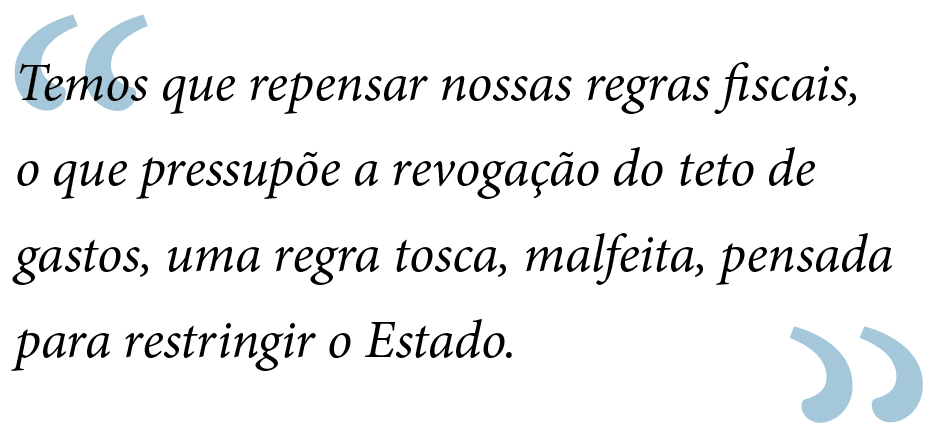
Qual o impacto do teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95 nesse contexto de necessidade de despesas extraordinárias para enfrentamento da pandemia?
Temos que repensar nossas regras fiscais, o que pressupõe a revogação do teto de gastos, uma medida que não existe em lugar nenhum do mundo na maneira que foi colocado aqui. É uma regra tosca nas coisas mais banais. Para ter uma ideia, no ano passado foi preciso mudar a regra para transferir aos estados e municípios os recursos da cessão onerosa do petróleo. Por exemplo, se uma universidade recebe uma doação, esse dinheiro está dentro do teto. É tosca, malfeita, pensada muito mais para restringir o Estado. A redução dá em torno de 25% do gasto público federal. Não resolve nenhum problema para o qual se propôs, que seria a redução da dívida, porque deixa a economia extremamente fragilizada. Nos três anos iniciais do teto (2017-2020), a gente cresceu em média um pouco mais de 1% porque tirou um estímulo da economia que era a capacidade do governo de ativá-la por meio de investimento e transferência de renda. O teto é na verdade uma tentativa de destruir a Constituição no âmbito da garantia de direitos sociais. Não é à toa que uma das coisas previstas na PEC 186, que felizmente não passou, era uma mudança no Artigo 6º, subordinando os direitos sociais ao equilíbrio fiscal. O teto inviabiliza qualquer outra tentativa de montar uma estratégia de desenvolvimento. Não é à toa que vemos o que o está acontecendo na área da saúde; o governo não teve nenhuma capacidade de organizar o setor produtivo para atender as demandas. No mundo, os governos usam as compras públicas para o desenvolvimento produtivo e tecnológico, o que aqui é inviabilizado pelo teto.
Superada a pandemia, em linhas gerais quais seriam as diretrizes para um projeto de desenvolvimento?
É preciso pensar qual seria o objetivo do desenvolvimento. Num país como o Brasil, tem que ser a redução das desigualdades. E, claro, não pode ser para baixo, como vemos agora, todo mundo ficando mais pobre, é subir quem está embaixo, sem prejuízo dos de cima. A redução da desigualdade por si só é um grande instrumento de desenvolvimento. Habitação, saúde, educação, transporte público, tudo isso são questões que mexem com o setor produtivo. Colocar as demandas sociais como um grande motor, com o Estado induzindo. A própria redistribuição de renda gera demanda, tem um círculo virtuoso. Também não tem mais como pensar um projeto sem a questão ambiental e a sustentabilidade. A própria tecnologia verde é um corredor de desenvolvimento tecnológico e produtivo.
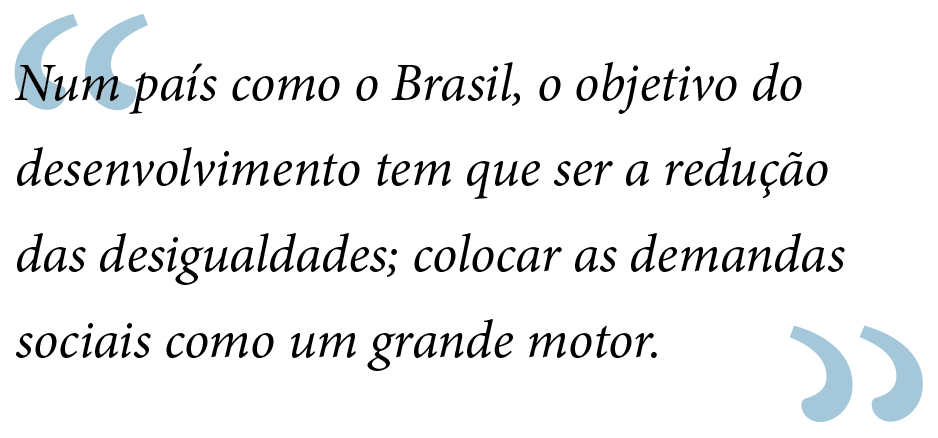 Outra questão é uma reforma tributária. A gente de fato consegue transferir renda pelo gasto público, seja pela Previdência e assistência social ou provisão de serviços, mas a arrecadação é extremamente concentradora. O peso da carga tributária é muito mais forte sobre os mais pobres, porque 50% do que arrecada é sobre bens e serviços. Outra coisa relevante é pensar o que seria o Estado de bem-estar social do século XXI, que terá uma demanda pelo trabalho muito diferenciada, crescente para o super qualificado, mas cada vez menos para o pouco qualificado, que será substituído por máquinas. Os serviços públicos são demandantes de mão de obra qualificada, assim como os setores de ponta, então é preciso qualificar as pessoas para isso. Mas também garantir que ninguém fique de fora, por meio de transferência de renda.
Outra questão é uma reforma tributária. A gente de fato consegue transferir renda pelo gasto público, seja pela Previdência e assistência social ou provisão de serviços, mas a arrecadação é extremamente concentradora. O peso da carga tributária é muito mais forte sobre os mais pobres, porque 50% do que arrecada é sobre bens e serviços. Outra coisa relevante é pensar o que seria o Estado de bem-estar social do século XXI, que terá uma demanda pelo trabalho muito diferenciada, crescente para o super qualificado, mas cada vez menos para o pouco qualificado, que será substituído por máquinas. Os serviços públicos são demandantes de mão de obra qualificada, assim como os setores de ponta, então é preciso qualificar as pessoas para isso. Mas também garantir que ninguém fique de fora, por meio de transferência de renda.
[A ideia é] usar a demanda social como motor do desenvolvimento. A área da saúde acabou se tornando um caso emblemático. Se pensar em Brasil, China, Índia e Rússia, só o Brasil não tem a sua vacina, isso porque perdemos na área química e farmacêutica a capacidade de produzir insumos. Tínhamos na indústria mecânica a capacidade de produzir ventiladores, mas não houve capacidade de organização. Fora os equipamentos mais tecnológicos que poderiam estar sendo produzidos aqui, porque o mundo vai se tornar cada vez mais fechado. Estamos no meio de uma guerra tecnológica entre China e Estados Unidos e não sabemos o que vai acontecer. Se não tivermos autonomia na produção, vamos deixar um sistema que é central sem capacidade de se sustentar, mesmo com demanda pública e o serviço bem montado.
Que política industrial o Brasil precisa? Obrigatoriedade de conteúdo local como havia e foi retirada no setor de gás e petróleo é uma saída?
Estamos vivendo no Brasil um processo de desmontar os instrumentos de desenvolvimento. Um deles sem dúvida foi o conteúdo local, seja diretamente, como era o caso de petróleo e gás, seja indiretamente por meio do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]. A indústria brasileira sabe como ela sobrevive graças ao BNDES, especialmente a de bens de capital. Como o BNDES exige o conteúdo local para fazer os empréstimos, isso obrigava que as empresas que comprassem máquinas e equipamentos o fizessem de fornecedores brasileiros, que tivessem o conteúdo 60% nacional. Isso é central. O financiamento da área agrícola é quase 85% público e sobrevive por conta dessa lógica. É toda uma estratégia que precisa estar montada. Dar o subsídio sem a demanda garantida na outra ponta não serve para nada.
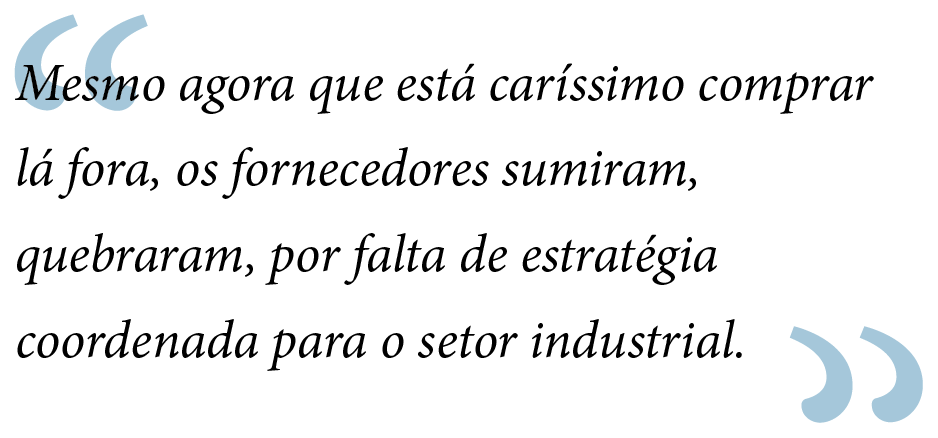 O ponto é articular o processo entre a demanda e a capacidade produtiva com regras bem claras. Porque num primeiro momento é muito mais barato comprar fora, ainda mais no período que tivemos de grande valorização cambial. Mas se não estimula a indústria aqui, ela começa a perder capacidade e, no final, mesmo agora que está caríssimo comprar lá fora, os fornecedores sumiram, quebraram, por falta de estratégia coordenada para o setor industrial. A indústria é um elo central, sem ela não teremos um projeto de desenvolvimento autônomo. Se um país resolve fechar para nós, não temos capacidade de resposta. As políticas específicas serão muito diferenciadas, mas o que falta é planejamento. As empresas vão fazer o que for melhor para elas, precisa de um projeto, sem isso não se consegue ir para a frente. Sem coordenação não vai brotar, não será fruto do mercado.
O ponto é articular o processo entre a demanda e a capacidade produtiva com regras bem claras. Porque num primeiro momento é muito mais barato comprar fora, ainda mais no período que tivemos de grande valorização cambial. Mas se não estimula a indústria aqui, ela começa a perder capacidade e, no final, mesmo agora que está caríssimo comprar lá fora, os fornecedores sumiram, quebraram, por falta de estratégia coordenada para o setor industrial. A indústria é um elo central, sem ela não teremos um projeto de desenvolvimento autônomo. Se um país resolve fechar para nós, não temos capacidade de resposta. As políticas específicas serão muito diferenciadas, mas o que falta é planejamento. As empresas vão fazer o que for melhor para elas, precisa de um projeto, sem isso não se consegue ir para a frente. Sem coordenação não vai brotar, não será fruto do mercado.
Clique na capa para fazer o download gratuito do livro
Assista à íntegra da entrevista com Esther Dweck