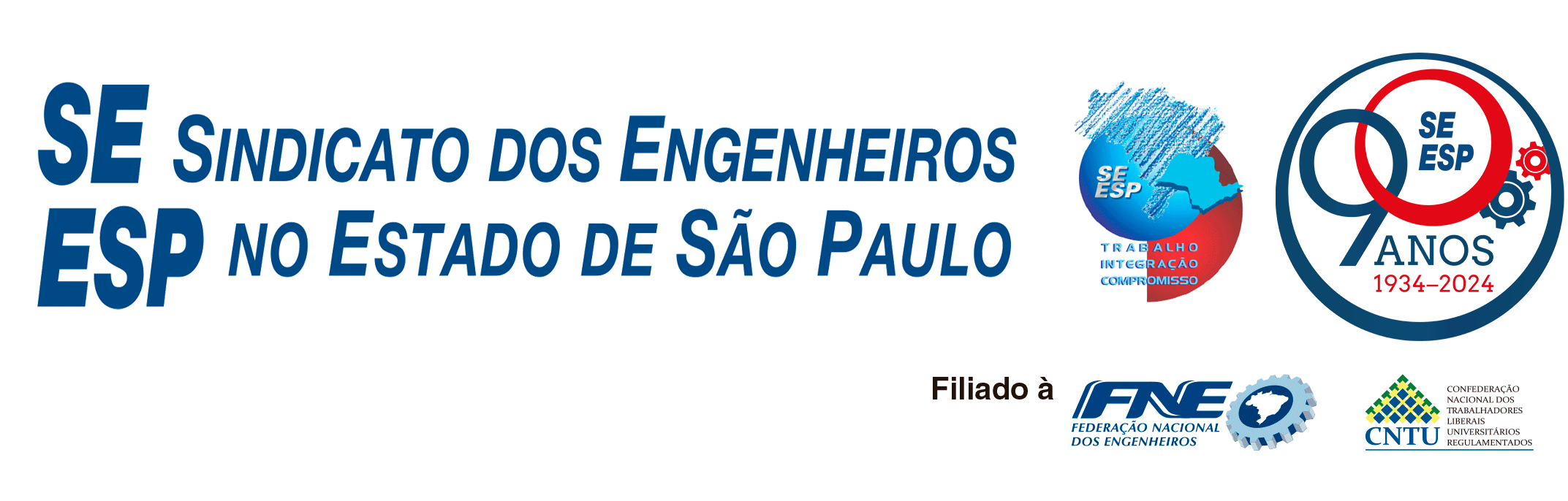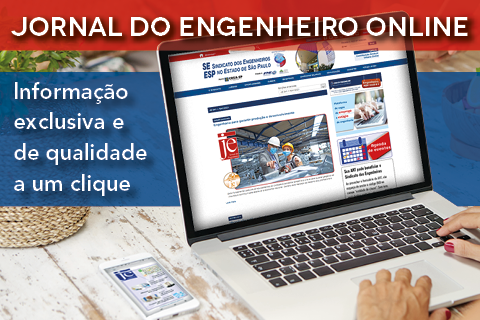A ênfase na hipótese de que o aquecimento global é causado pelo homem desvia as atenções do principal problema ambiental do planeta – a falta de saneamento básico para mais da metade da humanidade –, defendem cientistas da USP no artigo a seguir
A ênfase na hipótese de que o aquecimento global é causado pelo homem desvia as atenções do principal problema ambiental do planeta – a falta de saneamento básico para mais da metade da humanidade –, defendem cientistas da USP no artigo a seguir
No artigo “Aquecimento global: menos mito e mais ciência” (Jornal da USP, número 972, de 10 a 16 de de setembro de 2012, página 2), Tércio Ambrizzi e Paulo Artaxo recorrem ao arsenal rotineiro dos adeptos da hipótese do aquecimento global antropogênico (AGA) para tentar ocultar a principal deficiência da mesma: a falta de evidências físicas que a sustentem. Como têm enfatizado os seus críticos, não há qualquer evidência observada no mundo real que permita qualificar como anômalas as variações dos parâmetros climáticos (por exemplo, temperaturas atmosféricas e oceânicas) ou influenciados pelo clima (por exemplo, nível do mar), verificadas desde a Revolução Industrial do século 18, quando a humanidade começou a usar combustíveis fósseis em grande escala.
Ao contrário, desde o auge da última glaciação, há cerca de 22 mil anos, a partir do qual teve início o aquecimento que resultou no presente período interglacial, o Holoceno (iniciado há cerca de 11.500 anos), numerosas evidências apontam a ocorrência de temperaturas e níveis do mar mais altos que os atuais, bem como, principalmente, gradientes (taxas de variação) numa ordem de grandeza superior aos verificados para os mesmos parâmetros, nos últimos dois séculos.
Se as emissões de carbono das atividades humanas estivessem, realmente, afetando a dinâmica climática global, tal influência teria, forçosamente, que se refletir nos gradientes das temperaturas e níveis do mar, nos últimos dois séculos. Como estes não demonstram qualquer anomalia em relação aos precedentes, não é possível discernir qualquer “impressão digital” antropogênica, contra o background das oscilações naturais do clima – portanto, derrubando o argumento de ser “inequívoca” a mudança do clima pela ação humana, na escala global. Se não, vejamos.
Temperatura
O relatório de 2007 do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) registra que, no período 1850-2000, a temperatura média global aumentou 0,74ºC e que, entre 1870 e 2000, os níveis do mar subiram 0,2 m.
No Holoceno Médio, há 6.000–8.000 anos, as temperaturas atmosféricas médias chegaram a ser 2ºC a 3ºC superiores às atuais, enquanto os níveis do mar atingiram até três metros acima do atual. Igualmente, nos períodos quentes conhecidos como minoano (séculos 16–13 a.C.), romano (séculos 3 a.C.–5 d.C.) e medieval (séculos 10-13 d.C.), as temperaturas foram mais de 1ºC superiores às atuais.
Entre 12.900 e 11.600 anos atrás, no período frio denominado Dryas Recente, as temperaturas caíram cerca de 8ºC em menos de 50 anos e, ao término dele, voltaram a subir na mesma proporção, em pouco mais de meio século – um gradiente mais de 25 vezes superior ao observado desde o século 19.
Quanto ao nível do mar, ele subiu cerca de 120 metros, entre 18 mil e 6 mil anos atrás, o que equivale a uma taxa média de um metro por século – sete vezes maior que a registrada desde 1870. No período entre 14.650 e 14.300 anos atrás, a elevação foi ainda mais acelerada, atingindo cerca de 14 metros em apenas 350 anos – média de quatro metros por século.
Tais dados representam apenas uma ínfima fração das evidências proporcionadas por, literalmente, milhares de estudos realizados em todos os continentes, por cientistas de dezenas de países, devidamente publicados na literatura científica internacional revisada por pares.
A influência humana no clima restringe-se às cidades e seus entornos, em situações específicas de calmarias, sendo esses efeitos bastante conhecidos, mas sem influência em escala planetária.
Modelos matemáticos
No entanto, em lugar de evidências físicas, os proponentes do AGA se limitam a oferecer projeções de modelos matemáticos da dinâmica climática e uma exagerada importância atribuída às concentrações atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), que, no passado geológico, já atingiram níveis até uma ordem de grandeza superior aos atuais e cujas variações, segundo numerosas evidências, são consequências, em vez de causas, das oscilações de temperatura.
Os modelos numéricos são importantes ferramentas para a atividade científica, desde que as suas limitações sejam observadas. Não cabe, por exemplo, comparar as suas aplicações tecnológicas com a sua utilização nas ciências atmosféricas, como fazem os autores, pelo simples fato de que, nas primeiras, todos os princípios e propriedades físicos e químicos envolvidos no seu desenvolvimento são conhecidos, o que está longe de ocorrer com a dinâmica climática.
Por esse motivo, a Nasa pode realizar a maior façanha tecnológica do século 20, o Projeto Apolo, com uma capacidade total de processamento de dados inferior à de um único celular de hoje. Em contraste, uma melhor simulação da dinâmica climática não seria proporcionada se todos os computadores hoje existentes fossem interligados, pois a ciência ainda está longe de uma concepção abrangente e não reducionista da mesma, de modo a poder simulá-la por sistemas de equações (o que depende de observações e neurônios, e não de múltiplos de bytes).
Ademais, é um grave equívoco comparar os modelos climáticos com os meteorológicos, usados nos prognósticos do tempo. Estes últimos trabalham com equações que tentam sair de um estado diagnóstico primitivo da atmosfera e projetam a situação desse estado (onde estão os sistemas frontais, altas pressões atmosféricas, confluências de ventos etc.) em um futuro bem próximo, que pode ser de 12 horas a um máximo de sete dias.
Como existem muitos erros na admissão dos dados e, durante os processos de integração, há uma substancial ampliação desses erros, em dado momento, tais modelos passam a processar apenas valores numéricos que não têm mais representação física da realidade. Antes desse ponto, eles são interrompidos, para que a saída possa ser validada em um nível de confiabilidade acima de 70%, preferencialmente, por um meteorologista sinóptico bem treinado.
Por sua vez, os modelos climáticos não usam os mesmos procedimentos. Tais modelos podem levar em conta séries anteriores de temperaturas, para “dirigir” os processos de simulação, ou usar diversos tipos de forçantes climáticas que se julgarem necessários. Contudo, essa é a grande dificuldade, pois a ciência ainda desconhece os papéis exercidos por uma imensa gama de fatores envolvidos na dinâmica do clima. E os resultados são ainda piores quando esses mesmos modelos trabalham sob a forçante de um elemento determinador, como é o caso do questionável efeito físico da estufa, causada por gases como o CO2.
Incertezas
Os próprios autores admitem as incertezas dos modelos climáticos e, em sua defesa, invocam o “princípio da precaução”, como justificativa para as medidas sugeridas pelos adeptos do AGA, para o enfrentamento do suposto problema. Embora os autores não o mencionem, elas se baseiam na equivocada proposta de “descarbonização” da economia, com drásticas reduções do uso dos combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural). Como tal proposta padece do pecado original de se basear em uma hipótese não comprovada por evidências, não se justifica a sua consolidação em uma agenda política de tão grande alcance para as políticas públicas nacionais e internacionais, com graves consequências potenciais para as perspectivas de desenvolvimento socioeconômico das nações que representam três quartos da população mundial, haja vista que os combustíveis fósseis respondem por mais de 80% da energia primária e dois terços da eletricidade geradas no planeta. Desafortunadamente, tal agenda tem sido implementada por motivos alheios à ciência.
Igualmente, na falta de evidências, os autores (curiosamente, apesar de serem dois, há duas frases na primeira pessoa do singular) recorrem aos usuais ataques aos críticos do AGA, rotulando-os de “negacionistas”, termo geralmente aplicado aos negadores do Holocausto dos judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias, na Alemanha nazista. Aqui, vale registrar que, pelo menos um deles (Artaxo) denota um avanço, deixando de lado a mais comum qualificação de “céticos”, usada por ele, com o tom depreciativo habitual, ainda em recente entrevista à revista Ciência Hoje de junho de 2012. Afinal, como admitem, todo cientista que se preza deve ser um cético permanente em relação ao estado da arte do conhecimento.
Da mesma forma, os autores lamentam a atenção que a mídia tem conferido, recentemente, aos “cientistas que negam a existência do aquecimento global devido à influência do homem”. De fato, esse espaço tem aumentado, mas ainda é incomparavelmente inferior ao oferecido aos proponentes do AGA, como pode constatar qualquer acompanhante habitual da cobertura científica da mídia nacional. Mas, de qualquer maneira, trata-se de um avanço significativo, o qual reflete uma crescente percepção dos exageros e simplificações que envolvem a hipótese do AGA, tanto pelos formadores de opinião como pelo público em geral.
Dogma
Não obstante, causa espécie esse tipo de reação, dentro do âmbito acadêmico, que pressupõe uma atitude anticientífica e dogmática de evitar um livre debate de ideias, quase como uma censura, que não raro resvala para ataques pessoais aos que não concordam com a posição dita “consensual” – outro conceito que, diga-se de passagem, é desprovido de significado científico.
As mudanças constituem o estado permanente do sistema climático – pelo que a expressão “mudanças climáticas” chega a ser redundante. Por isso, o alarmismo e a obsessão com o CO2, que têm caracterizado as discussões sobre o tema, são extremamente prejudiciais à atitude correta necessária diante dos fenômenos climáticos – que deve ser orientada pela boa prática científica baseada em evidências, pelo bom senso e pelo conceito de resiliência, em lugar de se submeterem as sociedades a restrições tecnológicas e econômicas absolutamente desnecessárias.
Além disso, o “aquecimentismo” desvia as atenções das emergências e prioridades reais, como a indisponibilidade de sistemas de saneamento básico para mais da metade da população mundial (de longe, o principal problema ambiental do planeta) e a falta de acesso à eletricidade para mais de 1,5 bilhão de pessoas, principalmente na Ásia, África e América Latina.
No Brasil, grande parte dos recursos que tem sido alocada a programas vinculados às mudanças climáticas, segundo o enfoque da redução das emissões de carbono, teria uma destinação mais útil à sociedade se tivesse sido empregada na correção de outras deficiências reais como: a falta de um satélite meteorológico próprio (de que já dispõem países como a China e a Índia); a ampliação e melhor distribuição territorial da rede de estações meteorológicas, inferior aos padrões recomendados pela Organização Meteorológica Mundial, para um território com as dimensões do brasileiro; o aumento do número de radares meteorológicos e a sua interligação aos sistemas de defesa civil; a consolidação de uma base nacional de dados climatológicos, agrupando os dados de todas as estações meteorológicas do País, boa parte dos quais sequer foi digitalizada; e numerosas outras.
A história registra numerosos exemplos dos efeitos nefastos do abandono da prática científica baseada em evidências, em troca de obsessões motivadas por razões ideológicas, políticas, econômicas, modismos e outras causas. Nos países da antiga União Soviética, as ciências agrícolas e biológicas ainda se ressentem das consequências do atraso de décadas, provocado pela sua subordinação aos ditames e à truculência de Trofim D. Lysenko, apoiado pelo ditador Josef Stálin e seus sucessores imediatos, entre as décadas de 1930 e 1960. Lysenko e seus seguidores rejeitavam a genética mendeliana, mesmo diante dos avanços obtidos por cientistas de todo o mundo, inclusive na própria União Soviética, por considerá-la uma “ciência burguesa e antirrevolucionária”, tendo-a, simplesmente, banido da pauta científica soviética, enquanto perseguiam ferozmente os seus defensores (os “negacionistas” da época). O empenho na imposição do AGA, sem as devidas evidências, equivale a uma versão atual do “lysenkoísmo”, que tem custado caro à humanidade, em recursos humanos, técnicos e econômicos desperdiçados com um problema inexistente.
Kenitiro Suguio é doutor em Geologia, Professor Emérito do Instituto de Geociências da USP e membro titular da Academia Brasileira de Ciências
José Bueno Conti é geógrafo, doutor em Climatologia e professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP
Ricardo Augusto Felício é meteorologista, doutor em Climatologia e professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP
Imprensa - SEESP
Reprodução de artigo publicado no Jornal da USP